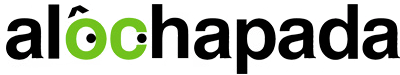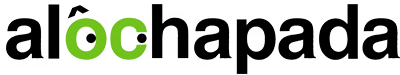Vi, dias atrás, umas figuras impúberes fazendo loas à Ditadura Militar; inclusive, algumas delas tinham reproduzido mensagens nas redes digitais, num movimento jumento de boicote ao filme “Ainda Estou Aqui”. Perguntei-lhes sobre o que sabiam daquele tempo, para além do que viram nas postagens dos grupos que participavam nas redes digitais, se tinham lido livros e de quem; em seguida, ante o silêncio raivoso, o que sabiam do ex-deputado Rubens Paiva e do que sofrera ele e toda a sua família, etc. Tomaram minhas indagações como provocação. Disseram um monte de frases desconexas sobre o Comunismo, que tinha que ser destruído por qualquer meio etc., que o ex-deputado era comunista; e, por fim, que graças à Ditadura, o Brasil não virara comunista. Ou seja, nada sabiam. O ignorante age assim, porque sabe que a gente pergunta sabendo que ele não tem conhecimento sobre o fato, só informação abstrata, superficial, que nem sempre consegue expressar; então, nu, fica tomado pelo ódio.
Vivemos acossados pela ignorância-militante: que é a tentativa da jumentice se impor, por meio de uma quantidade imensa de jumentices, como se sabedoria fosse. Dizia-me uma amiga professora: “Joguei a toalha: não discuto com essa gente. Se possível não os ouço, quando não é possível não os ouvir, faço ouvidos moucos, digo-lhes alguma piada, que sei que eles não entenderão, e os deixo roendo-se de raiva”. Não penso assim. Gosto de Rosa de Luxemburgo, a revolucionária, a nos ensinar que os problemas da democracia, resolve-se com mais democracia”: combatamos a ignorância com doses cavalares de conhecimentos. Já o disse, repito: não é possível saber sem estudar. A ignorância-militante, que é um movimento político de negação à vida, deve ser ridicularizada, apresentando-lhe o conhecimento como se um espelho – em que se veja no seu revés...
Muitas das perversidades cometidas pela Ditadura no cotidiano da vida de gente que nem militante político era, as pessoas nem imaginam. Como a militarização do Povo Indígena Carajá, criando a Polícia Carajá; cujos “policiais”, cometeram atrocidades contra seus iguais, todas aprendidas e incentivadas pelos chefes não-indígenas que os de-formaram. Vi uma dessas, ao lado da nossa casa, quando um grupo de policiais Carajá manietou outro indígena, amarrando-lhes os pulsos com uma corda fina de nylon. Marcou-me, a força com que o amarravam, fazendo a corda entrar em suas carnes. Marcou-me o silêncio lúgubre dos policiais e da vítima, cortado apenas por fungados de dor e raiva, talvez. Minha Mãe mandou-me entrar, e não vi como e pra onde o levam...
Dos ignorantes-militantes que conheço, nenhum aguentaria um trisco de tempo sob aquela tortura. Só a ignorância revestida da arrogância de não saber, e se afigurar sabedora do que sabe que não sabe, pode achar positividades no fato de um grupo de iguais submeter todo um povo, todo um País, às suas vontades e interesses. As ditaduras materializam a negação da vida às maiorias, mediante as mais absurdas violências, em favor de determinada economia, controlada e para o interesse de uns poucos; os militares eram instrumentos desses poucos – como aqueles policiais-indígenas eram destes. Sim, todas as ditaduras têm uma razão econômica, inclusive a Ditadura do Proletariado; mas, aí, a significância é outra!
As polícias todas naquela região, sob a Ditadura, pareciam ter fixação pelos pobres peões-do-trecho: maltratavam-nos impiedosamente, como se não fossem gente. Todas as grandes fazendas “abertas”, formadas, naquele então, que demonstram tanta opulência, riqueza e produtividade hoje, todas, devem muito aos indigentes Peões-do-trecho. Era uma gente desgarrada de suas famílias, por diversos motivos, desde uma briga terminada em morte, até o acossamento do latifúndio na seca nordestina, que os fizeram “arribar” Brasil a dentro, até ali. As polícias os maltratavam, em muito porque sabiam que, além dos Padres da Prelazia, não havia ninguém por aquela gente.
Os Peões-do-Trecho eram uma enciclopédia de histórias diversas, cujos fatos, foram tecidos e constituíam as tramas interessantes do ser de muitos daqueles lugares; que se perderam no correr dos dias urbanizados, a corroer o Sertão. Conheci um desses brasileiros sem nome, que trabalhava mais que burro-de-carga...
O Baianinho Vôte era uma pessoa mirrada, preto retinto, que se empregava nas fazendas, fazendo a comida, a “boia” para a peãozada que trabalhava na juquira: derrubada da mata e preparação de grandes áreas para o plantio de capim pro gado. Era uma pessoa amável. Sempre que chegava das fazendas ia lá em casa, cumprimentar-nos. Gostava dos meus pais. Minha Mãe sempre a lhe dava conselhos, especialmente para não gastar tudo o que recebera com cachaça – conselho inútil...
O Vôte, como todos os demais Peões-do-trecho, ficava “alongado” nas fazendas por períodos de, no mínimo, seis meses; então, recebia o saldo – depois de todas as explorações do Gato e do dono da birosca, que lhe vendia, “adiantava”, as mercadorias para o “comer” – e vinha para a cidade. Todo o dinheiro que tinha, ficava à mostra nos seus bolsos da calça de tergal, ou coringa (o jeans daquele então); gastava-o até o último centavo: com alguma roupa nova, corte de cabelo, às vezes um sapato; mas, a maior parte, era com cachaça. Era como se se vingasse de uma tristeza que não o abandonava nunca, e que se avivava quando chegava na cidade.
Nunca vi, nem soube, que o Baianinho Vôte tenha falado de si pra alguém. Dizia-se que havia matado alguém lá na sua Bahia; mas, não se sabe se é verdade ou história inventada. O certo é que ele havia estudado, porque nos perguntava sobre verbos, pronomes, adjetivos, e sobre o corpo humano; falava do nome científico dos órgãos, sobre nossos acidentes geográficos, os relevos mais destacados da Terra, etc. Passávamos horas escutando o Baianinho, quando ele ainda não estava muito embriagado. Bêbado, dormia em qualquer lugar: numa calçada alta de algum bar, ali mesmo em casa, derreado numa cadeira de fio, com encosto longo...
De nada, ele reclamava. Bebia e conversava. Nunca ouvi dizer que houvesse brigado com alguém, nem caçado encrenca. Bebia.
Nunca soube seu nome. O diminutivo na alcunha, devia-se àquela estatura; e o “Vôte”, era porque sempre usava aquela expressão no seu falar: incorporou-se ao apelido, que era carinhoso até. Penso, tantos anos depois, que ele queria ter estudado mais, quem sabe ter ajudado algum filho do qual nunca falou, a estudar, virar doutor: porque sempre nos incentivava a estudar. “– É preciso es-tu-dar!” Dizia-nos, separando as sílabas, para acentuar aquele conselho. “– Vôte, ter que ficar como eu: na juquira! Obedeçam sempre, seus Pais!”
Vim estudar, e nunca mais vi o Baianinho. Tempos depois, quando fui em casa, de férias, perguntei sobre ele, disseram-me que havia morrido. Descansou. Aqui, na Terra, especialmente nestes tempos do Agronegócio, ninguém sabe nem tem necessidade de identificar o lugar da sepultura do Baianinho. Era um sem nome. Mas, seu suor e todas as suas dores, sentidas nos seus silêncios de ser sozinho, estão entranhados no capital dos grandes empreendimentos do Agronegócio, que ajudou a formar.
Acredito que as almas, como a do Baianinho Vôte, são as que mais agradem Deus, em seus dias siderais; são as com que Nossa Senhora gosta mais de conversar, sem pressa e se rindo muito. Amém!
*Prof. Dr. Elismar Bezerra Arruda é professor na rede pública de ensino
O Alô Chapada não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste espaço, que é de livre manifestação
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real