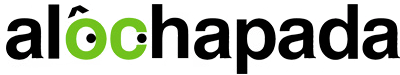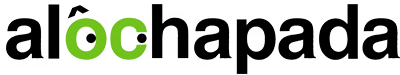No interior profundo do Brasil, até os anos 60, 70, quando caía a noite, além dos astros e satélite naturais, apenas a luz tímida, tênue e errática das lamparinas clareava as casas, os terreiros e os caminhos nos derredores da casa; não havia naquelas lonjuras sertanejas, especialmente nas nascentes cidadezinhas da margem esquerda do Araguaia, a luz elétrica. As poucas ruas dos lugares, protocidades, sob a lua cheia é que ficavam mais iluminadas; e dum jeito, que os olhos-de-sertão, acostumados, viam tudo e longe. Bem diferente do que se vê agora, quando parece haver uma certa cegueira generalizada nos olhos urbanizados, imposta pela luz elétrica e seus neons nestes olhos deserdados das habilidades dadas pelo mundo natural de antanho, conformados nas artificialidades tecnológicas, inventadas e assimiladas como imprescindíveis à vida hodierna – que se desenvolveu e desenvolve, negando o Sertão...
É bom! É ruim! A Vida não é inteiriça: é feita mosaico, e cada peça do sem-fim de peças de que é feita, tem em si a significância da outra, que lhe dá sentido e beleza – ressignificando-se umas nas outras, reverberadas no olho de quem vê, no ouvido de quem ouve, feito as notas daquela valsa de Chopin!
Nessas priscas eras, as noites eram respeitadas como o tempo do recolhimento do corpo e do espírito aos aconchegos e sossegos e segurança da casa – cujos limites, incluída a varanda, a calçada e até a parte da rua descalça defronte e deserta de veículos automotores, constituíam mais que um recorte espacial: era um território. Tratava-se de fronteiras históricas, estabelecidas no tempo de décadas de um domicílio vivenciado e caracterizado pelo ser-familiar, no modo de viver, de produzir a vivência pelas condições materiais e sociais e culturais, com vizinhos e parentes e aderentes; de jeito que se cuidava da parte da rua defronte, como sua: varrendo-a pra não parecer desleixado, num tempo em que não havia lixeiro, porque não havia lixo-poluição: era cisco...
Então, o dia era o tempo e o prazo para se fazer e arrumar tudo o que era necessário; e começava sempre, antes de o sol se mostrar no horizonte. Era assim, para não precisar sair à noite, às tontas, encandeado, procurando alguma coisa esquecida, ou pra arrumar o que faltou ser. Ali, nenhuma artificialidade havia, que alterasse o ser da noite; ela era, por suas imposições naturais, respeitada e temida. A escuridão limitava o andar, o ver, o fazer, criava monstros, deste e de outros mundos, a devorar as mais afamadas coragens; e assim, a noite assombrava desde os últimos raios do sol, até o cantar dos galos iniciar a tessitura do novo dia, nos quintais que se emendavam em grandezas imensas para o olhar das crianças, sem muros.
Na “boquinha da noite”, na “porta de casa”, no terreiro, as pessoas se ajuntavam para falar de coisas antigas, contar causos e comentar do último acontecimentos; pessoas conhecidas, parentes pela compaternidade, pelo Batismo, pela Crisma, dos seus muitos filhos – de jeito que um assunto se encangava no outro, e ia até o sono pesar nos olhos. Pesava primeiro nos dos da meninada, que tudo ouvia, curiosos, sonolentos, deitados na calçada morna, ou com os corpos atravessados entre uma cadeira e o colo da mãe ou do pai ou da avó: sono melhor nunca houve, bom, inocente, profundo. Não adiantava a Mãe mandar menino ir pra rede, porque o assombrado não ia: tinha medo de ficar sozinho, medo aguçado pelas histórias contadas, ouvidas, sobre índios, “lobos”, “mulas-sem-cabeça” e Boiuna...
Boiuna era a cobra imensa, encantada, que, às vezes, saía do rio e entrava na Igreja, na hora da Missa, pra mamar no peito de moça tida como virgem, mas que havia embuchado por concepção proibida, inclusive com padre; de modo que, pra ninguém saber, na hora que sentiu as dores, a infeliz correu escondida pra beira do rio e, ali, sozinha, pariu o inocente e, sem lhe olhar as feições, jogou-o no rio. Diz-se que lá, nas profundezas mais frias, no perau mais escuro, onde as águas rebojam, o menino não morreu: encantou-se, virou Boiuna e, no tempo aprazado pelo encantamento, ele saía das águas e entrava na Igreja pra revelar o segredo. Tudo quanto era menino que tinha ouvido aquilo, quando entrava na Igreja aos domingos, ficava olhando para as janelas e pra porta larga da entrada, esperando a bicha imensa aparecer e mamar n’alguma moça...
Sim, havia ignorância inocente, dessas sem perversidades, que não faz maldade pra ninguém, não desqualifica, nem fere o caráter de qualquer; que, tentando explicar o que não sabia, criava histórias, crenças, pra não parecer sem conhecimento nenhum aos outros. Então, difundia-se naqueles terreiros, sob a lua cheia, e, um que ouvia, recriava e contava além, seguindo uma tessitura sem fim de histórias inverossímeis – aliás, histórias quase inverossímeis: porque, inventadas do nada, não eram. E muitas das sabedorias sertanejas, que orientaram a ciência, desenvolveram-se dali: porque o conhecimento se faz do observar rigoroso, do perscrutar um dizer, um causo, uma historinha, pra achar-enxergado num resquício mínimo dela, a verdade que ainda não era conhecida; senão, como se descobriu que mastruz é bom pra acabar com vermes? Que leite de cansanção, colocado no dente cariado, quebra ele inteirinho? Que a cinza do pavio da lamparina era boa pra cicatrizar o umbigo do menininho nascido de pouco?...
A urbanização tem feito a gente esquecer o Sertão – mesmo os que o conheceram, estão a esquecê-lo, a negar, a tê-lo agora como um atraso, um passado sem serventia; pois, em face de um presente totalizador, que cega, tudo se desvanece a indicar mais totalização do corpo, da alma, do fazer e do pensar em função de um futuro de luz-neon e pressa. E segue-se, sem lua, sem a estrela da manhã dizendo o horário, desimportando-se do outro, de nem se saber o nome do vizinho, de achar qualificador de si, dizer que é coisa besta, a poesia. Olhe como até o riso perdeu a graça: paga-se pra rir da troça que se faz do que aparenta desengonçado, frente ao que se tem como normal. E quanto mais esse futuro se avizinha, mais a gente e os lugares da gente se encolhem: a casa agora, tem o tamanho da sala das casas de quando tudo se referenciava nas coisas e nos jeitos do Sertão. Tudo era maior, o mundo era imenso: do tamanho do mundo...
Na alma das pessoas, a casa de morar e viver foi morta antes de desaparecer da rua. Fez-se como normalidade, um viver tormentoso, só pra trabalhar; então, as casas de morar e viver, foram reduzidas ao lugar pra ser visitado e dormir sono curto, nos intervalos do trabalho sem-fim. Sem quintais e cantos e cores e ninhos de passarinhos, e sem manhã e horizonte de sol-nascente, acinzentou-se tudo, esconderam os telhados de telhas esculpidas nas coxas, tiraram a alegria das cores das paredes – o olhar ficou seco de tanta desalegria: um desalento de não saber voltar e nem urdir outro horizonte. Arquiteto se amoldou nisso, sem saber fazer curvas nos desenhos das casas, deu-se a quadrar tudo, desinventando a arquitetura – nome tão bonito e engenhoso: arquitetar, virou o que?
O comércio foi-se entranhando na vida até vergar o Sertão ao seu ser-interesseiro, foi aí que casa de comércio e de morar se igualaram, porque o morador virou só mercadoria mesmo, a mesma sisudez comercial sem riso, pronto pra realizar a ordem na esperança breve do salário mensal. Mas, olha que laço: a sisudez do lucro só se dá no tempo da sua conquista, da sua formação pelas mãos-operárias, pois, depois, o lucro se ri folgazão, no luxo, sozinho – pra não espantar o qual, que o produziu...
Apagaram-se as lamparinas. As que ainda vigem nas salas, estão vazias de óleo ou querosene, seus pavios estão brancos, desencardidos de fumaça, porque nunca foram acesos; vê-se nos seus jeitos, coitadinhas, a tristeza de nunca terem iluminado uma cozinha, um terreiro, a sala, uma conversa... Vivem da solidão triste de serem peça de decoração. Nenhuma rua que se conhece, tem uma praça com homenagem às lamparinas, pra lembrar o tempo do Sertão: os arquitetos, coitados, não sabem desenhar uma lamparina; e os prefeitos, cativos do voto, não têm sabenças pra o embelezamento da vida – vivem para o lucro, a ética do lucro é antitética à Vida em Abundância. Daí aquela alegoria milenar, de ser “mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha...”, lembra? Tem menino virando homem, que nunca viu a luz de uma lamparina numa noite de chuva mansa, iluminando as coisas e as gentes, de jeito que os olhos viam mais formas que as que existiam; diz-se, que, dali, nasceu a imaginação...
As lamparinas foram inventadas pra confirmar o Sertão, por isso nunca foi de iluminar além do derredor pertinho, pra não anuviar a luminosidade das estrelas e, menos ainda, o plenilúnio: elas se complanavam à candura das noites seresteiras; ainda que escondessem seus perigos – mas, somente nas mãos descuidadas, que deixavam sua inocente chama encostar nos punhos e franjas das redes de dormir. Deu-se assim, muitos incêndios; é verdade. Menino, vi quase tudo queimar, umas duas ou três vezes; numa das quais, criancinha pequena, deitada na rede, quase morreu. O Sertão exigia ser conhecido por seus gozos e perigos; ensinando que ali, nas suas simplicidades todas, de conheceres fáticos, necessários, ignorância nunca foi coisa para ser incensada...
Prof. Dr. Elismar Bezerra Arruda é professor na rede pública de ensino.
O Alô Chapada não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste espaço, que é de livre manifestação
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real